Se você não estava por dentro da polêmica que surgiu depois de a palavra “dorama” ter sido incorporada ao nosso vocabulário oficial por decisão da Academia Brasileira de Letras (ABL), eis um resumo!
O termo “dorama” se popularizou no Brasil em decorrência do sucesso de séries asiáticas por aqui. “Dorama” vem de “drama”. Trata-se de uma tentativa de indicar a dificuldade dos japoneses em pronunciar o encontro consonantal (como ocorre na sílaba “dra”).
Quando um termo passa a ser amplamente usado no nosso país, a ABL é responsável por oficializá-lo, o que acontece com sua inserção no Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (Volp). Até aí, legal, a língua muda e isso se oficializa às vezes. Outros termos incluídos recentemente são “feminicídio”, “covid-19” e “sororidade”. A vida muda, a língua muda. Mas…
No Instagram, a ABL divulgou a definição de “dorama” afirmando que se trata de “uma obra audiovisual de ficção no formato de série, produzida nas regiões leste e sudeste da Ásia e que “foram originalmente concebidos no Japão”. Também esclareceu que há denominações específicas para identificar a origem dessas produções, como J-drama (doramas japoneses), K-drama (coreanos) e C-drama (chineses).
Em seguida, a Associação Brasileira dos Coreanos divulgou um manifesto condenando essa definição. Para os pesquisadores coreanos, ela é preconceituosa e generaliza as produções asiáticas. Para eles, “dorama” (de origem japonesa) não pode ser usado como um termo guarda-chuva para séries outros países. “É como falar que toda comida nordestina é comida baiana”, disse o presidente da associação. A ABL se defendeu dizendo que apenas apontou o uso da palavra como ele ocorre em contextos reais em português no Brasil.
Pelo que entendi, a forma como usamos “dorama” apaga as especificidades das mídias de países asiáticos, gerando conceitos equivocados e reforçando estereótipos. “Generalizar as produções do sudeste asiático como doramas seria como chamar todos os asiáticos de japa”, disse Yun Jung Im, professora e coordenadora da graduação em Letras – Coreano da Universidade de São Paulo (USP).
Ricardo Cavaliere, membro da comissão de lexicografia da ABL, defendeu a definição: “Não é incomum que, uma vez incorporada a outra língua, a palavra ganhe vida própria, rapidamente se distanciando de seu sentido ou de seu emprego original”. Ele explicou ainda que “o registro feito em dicionários e vocabulários é posterior ao uso que os falantes fazem da língua no processo de comunicação”.
Manu Gerino, da página Coreanismo, especialista em filmes e séries coreanas, disse: “Até a primeira metade do século 20, o Japão invadia a Coreia, e lá aconteceu todo tipo de violência inerente a uma colonização. […] Então hoje, quando usamos um termo japonês para algo coreano, essa lembrança de violência vem junto”.
Fontes:
ABL na mídia – Veja – O fenômeno da TV que adicionou uma nova palavra à língua portuguesa | Academia Brasileira de Letras
Palavra ‘dorama’ é incluída no vocabulário da Academia Brasileira de Letras | Educação | G1 (globo.com)
Pesquisadores coreanos assinam manifesto contra definição da ABL de ‘dorama’; academia defende (correiobraziliense.com.br)
ABL irrita fãs de drama coreano e causa treta entre ‘dorameiros’ ao tentar definir termo; entenda – Estadão (estadao.com.br)


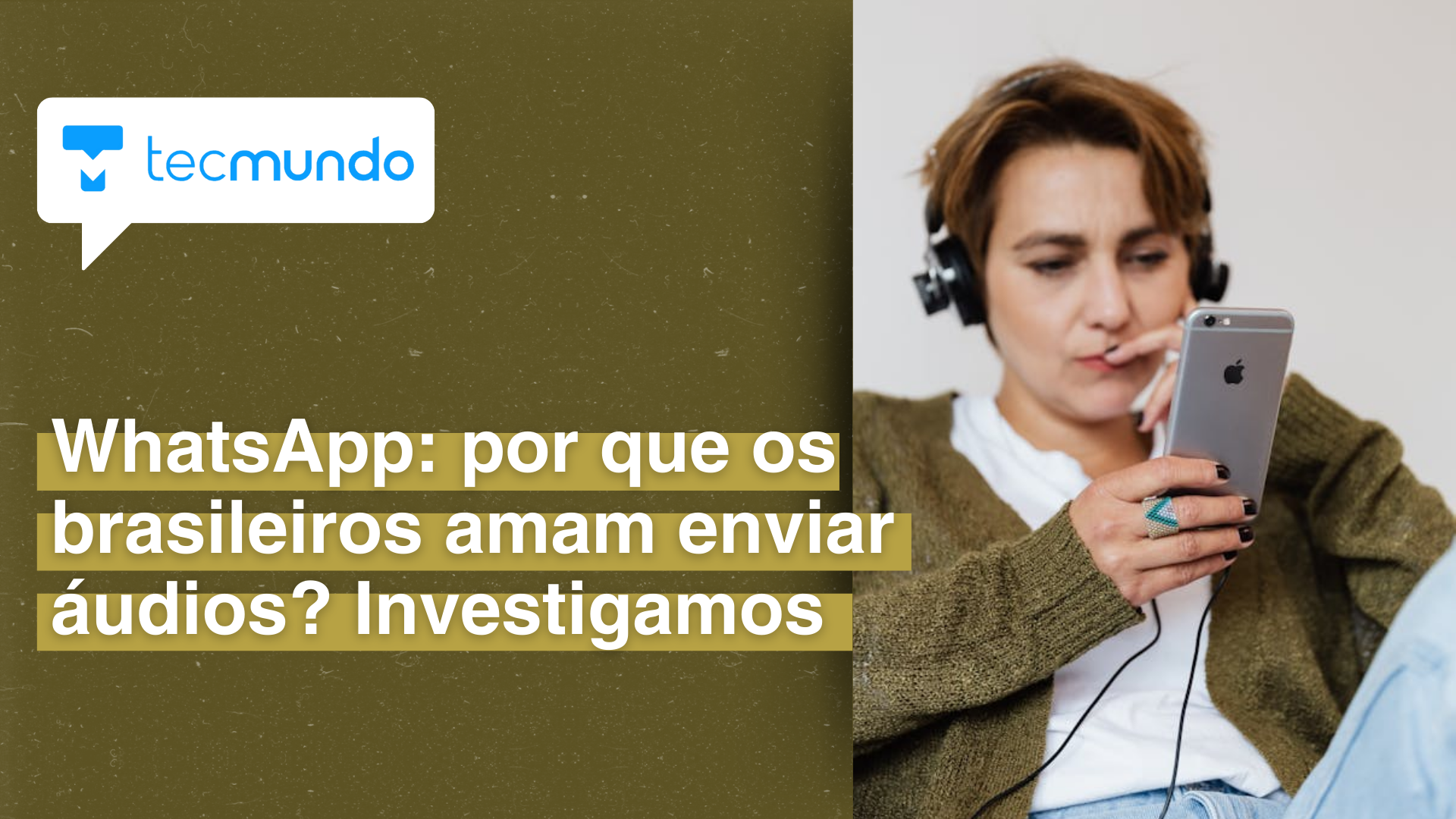
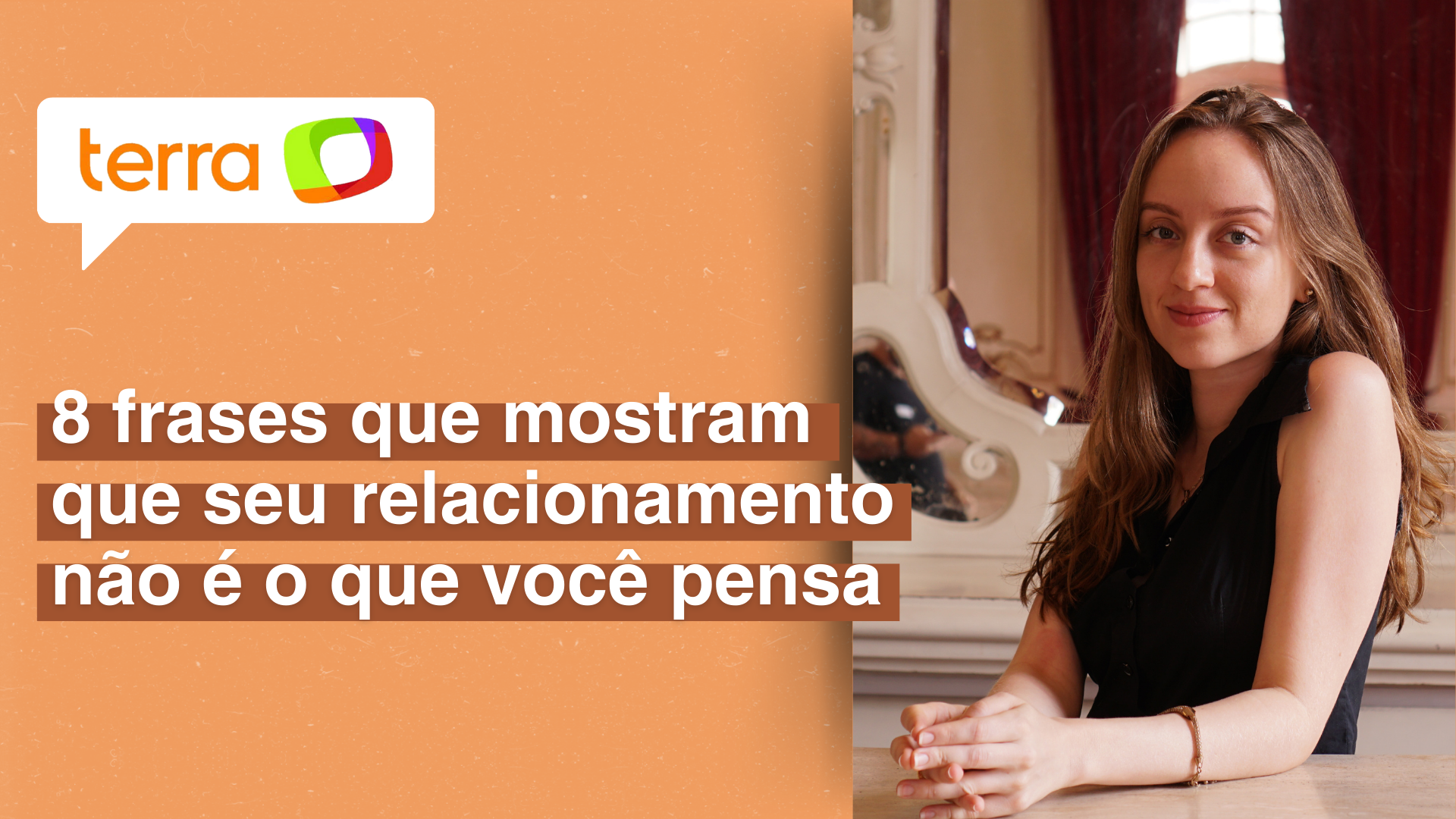

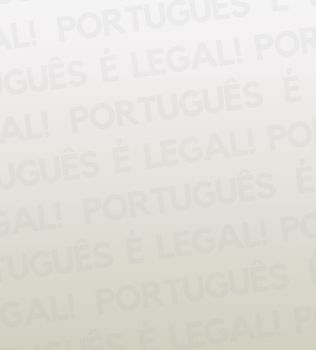

 Para falar da semana atual, dizemos “esta” semana.
Para falar da semana atual, dizemos “esta” semana. Portanto, se vamos falar do ano que já começou, devemos nos referir a ele dizendo “este ano”.
Portanto, se vamos falar do ano que já começou, devemos nos referir a ele dizendo “este ano”. Você acertou? Quero saber se já conhecia esse caso!
Você acertou? Quero saber se já conhecia esse caso!